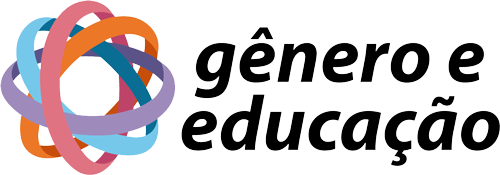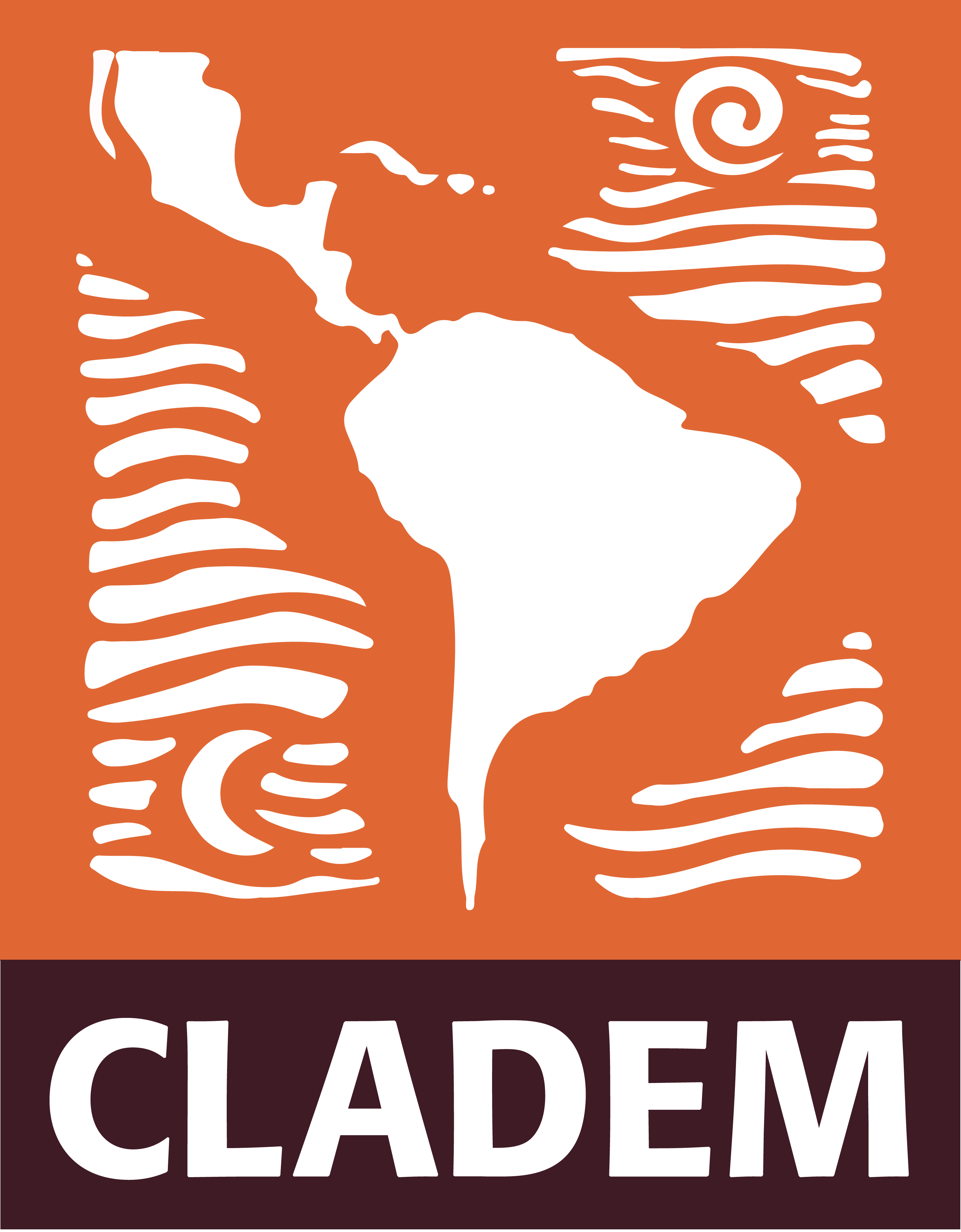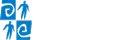A educação antirracista diante do novo ensino médio e da militarização das escolas
Políticas têm sido aprovadas sem atender demandas de estudantes e população negra é a mais prejudicada pelas reformas educacionais

Nos últimos anos, estudantes e escolas de todo país foram impactadas/os por várias mudanças em seu dia a dia: a aprovação do Novo Ensino Médio (Lei 13.415/17), a explosão de escolas cívico-militares, o fechamento das escolas com a pandemia de Covid-19 – nem sempre apoiado por ações que assegurassem a continuidade dos estudos de forma remota – e as várias alterações na lei do Novo Ensino Médio, nunca acompanhadas de aumento de investimento financeiro. Essas várias mudanças tiveram ao menos uma característica em comum: foram construídas e implementadas “de cima para baixo”, sem atender as demandas das e dos jovens, especialmente estudantes negras e negros das periferias, população que é a mais prejudicada pelas reformas educacionais em curso.
Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2023 mostram que cerca de sete em cada 10 jovens que abandonam a escola no Ensino Médio são negras e negros, sendo a necessidade de trabalhar o principal motivo. Apesar da aprovação de uma nova Política para o Ensino Médio em 2024, seguem os desafios com relação ao atendimento educacional de jovens que trabalham, principalmente daquelas e daqueles que abandonaram a escola. E os impactos das reformas educacionais para o Ensino Médio ainda afetam de forma negativa esses/as estudantes.
Para ser bem sincera, depois da reforma eu dei até uma desanimada da escola, principalmente por causa da parte digital. Sinto que não aprendo tanto só com a tela de celular, é diferente de ter professor explicando. (…) Os mais afetados somos nós que moramos na periferia e, em maior escala, pretos e periféricos. A gente olha mais de fora e vê que quem tem condições melhores, tipo as escolas particulares, não tem o Novo Ensino Médio como a gente. Estou tendo que fazer cursinho popular por fora, e vou concorrer à mesma vaga, com as mesmas exigências, mesmo não tendo o mesmo estudo. Estou indo para a escola para terminar o Ensino Médio, mas dizer que realmente estou aprendendo alguma coisa, eu não estou.
Rebeca*, estudante do 3º ano do EM
Sendo preta e periférica, acho que muitos alunos da minha cor, a gente tem dificuldade de até mesmo seguir com essas plataformas [digitais]. Tá sendo horrível, porque a gente acaba não tendo tempo pra fazer as lições gerais dentro da sala de aula, os professores acabam tendo que fazer um trabalho que não é deles, e isso dificulta muito o ensino.
Lara, estudante do 3º ano do EM
Nós queremos ensino médio de qualidade, que a gente possa passar no vestibular, porque projeto de vida não vai me ajudar a passar na Fuvest. Quero que foque exatamente naquilo que a gente precisa pra gente ocupar o lugar que é nosso por direito, porque essa coisa do [novo] ensino médio só foi pra afastar mais e mais a periferia da faculdade. Porque vem aquela coisa “preciso trabalhar”. E dando demandas que a gente não precisa, como projeto de vida, empreendedorismo, afastando a gente mais e mais de uma faculdade pública, a pessoa trabalha mais e mais pra poder pagar uma faculdade particular.
Bianca, estudante do 3º ano do EM
* Nomes fictícios para os depoimentos das jovens e dos jovens que contribuíram com a reportagem.
Mas o que há de novo no “Novo Ensino Médio”?
Outro fenômeno em franco crescimento em todo o Brasil, e em especial no estado de São Paulo, é a militarização das escolas. Um processo de caráter racista, machista, LGBTfóbico e excludente com estudantes mais vulneráveis, já que a militarização prega pela obediência e pela padronização – que é baseada em ideais brancos, heteronormativos e que privilegia apenas um tipo de masculinidade e feminilidade.
Por exemplo: em março de 2022, uma estudante baiana negra foi impedida de entrar em sua escola por conta do cabelo crespo, recebendo a ordem de alisá-lo. No mesmo mês, em Santa Catarina, alunas receberam advertência por levar uma bandeira LGBT para a escola. Como destacou Denise Carreira, professora da Faculdade de Educação da USP e integrante da Articulação contra o Ultraconservadorismo na Educação, a militarização “põe a escola a serviço de uma lógica racista de perseguição, de vigilância permanente e de contenção da juventude negra compreendida como uma ameaça à sociedade”. Isso se dá através da imposição de comportamentos rígidos e do silenciamento dos espaços de crítica ao modelo disciplinar militar, além do esvaziamento da gestão democrática e repressão à atuação de coletivos juvenis.
E os dados mostram a urgência de se debater e combater o racismo nas escolas: segundo a pesquisa Percepções do Racismo no Brasil, esse é o tema mais importante a ser debatido, com 69% das pessoas considerando-o prioritário. E cerca de 2 em cada 3 estudantes apontam justamente a escola como o ambiente onde mais o experienciam.
Um dos discursos utilizados para vender o modelo militarizado é de que essas escolas seriam “melhores”. Mas o que os dados mostram é que elas recebem muito mais investimento e que, na verdade, elas já tinham infraestrutura e nota do Ideb acima da média antes de serem militarizadas. E se a adesão à militarização não mudou substantivamente a “qualidade” do ensino nessas unidades, serviu para deixá-las mais excludentes. Isso porque, para aderir ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (PECIM), as escolas tiveram que cumprir requisitos como fechar turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e de ensino noturno – caracterizadas por receberem estudantes trabalhadoras e trabalhadores.
“Em geral, o perfil das escolas muda depois da militarização: embranquecem, atendem pessoas com mais condições financeiras, passam a ter congestionamento de carros”, descreve Catarina Almeida dos Santos, professora da UnB e especialista em militarização. Catarina ainda pontua o paradoxo de, por questões de segurança, se cogitar ou implementar um modelo liderado pelas mesmas forças responsáveis pela repressão à juventude negra: “É contraditório militarizar a escola com o discurso de garantir segurança e colocar dentro dela exatamente quem não garante a segurança do lado de fora, especialmente para quem é pobre e negro. É porque a sociedade está insegura que a escola também está, e não o contrário. Chamar os responsáveis por essa falha para resolvê-la não resolve nada”. A professora da Unifesp e membro da Rede Escola Pública e Universidade (REPU), Débora Goulart, complementa: “o que significa para um estudante negro, que tem medo da polícia na rua, tê-la na escola? Sendo a escola esse ambiente que, com todos seus problemas, em geral é onde os jovens conseguem se expressar, se coletivizar e expressar suas identidades. A figura militarizada na escola enfraquece a possibilidade desses grupos se fortalecerem”.
Na minha escola, em comunidade, não ia dar certo. Os alunos estariam em risco.
Giovana, estudante do 1º ano do EM.
A militarização nas escolas afeta o jovem negro acho que não só na parte estudantil, mas também o psicológico. Porque querendo ou não essas escolas querem que nós sejamos moldados ao que eles querem, na vestimenta, no cabelo. Então essas escolas são voltadas para que as pessoas percam a capacidade de pensar contra o sistema, entende? Porque pensando contra o sistema vem a revolução e eles não querem a revolução. Com essas escolas eles moldam os alunos pretos e periféricos pra que eles comecem a pensar exatamente da forma que eles querem que a gente pense. E com toda essa revolta contra a militarização isso pra eles está causando uma revolta do caramba, porque pra eles não deveria ser assim, preto não deveria ter voz. Periférico não tem voz. Como assim você tá indo contra o que eu tô falando?
Bianca, estudante do 3º ano do EM
Ano passado trabalhei com mais pessoas da minha escola para ela não virar cívico-militar nem PEI, por conta da estrutura dela e da própria comunidade que está. Não seria bom para a escola e nem para os professores. E ficaram insistindo para virar, mandaram alguns alunos para outras unidades ver para como eram. Mas na nossa realidade não funciona. Eu agora no pré-exército já estou vendo que se você prestar atenção percebe que é um ambiente muito controlador, tem que seguir tudo à risca, querem bonequinhos. Ou segue à risca ou é humilhado, tem a voz calada.
Leandro, estudante do 3º ano do EM
Acho que seria difícil [se a escola se militarizasse], porque a gente já tem que seguir regras, às vezes a gente não tem muito a oportunidade de dar nossas opiniões, expressar o que a gente pensa, fala, sente. Acho que isso ficaria muito difícil. Acaba tendo muita regra e são pessoas que deveriam proteger nosso povo, nossa periferia, mas acabam prejudicando muito. Acho que isso não funcionaria muito nas escolas. tanto pra nós como pretos ou como qualquer pessoa em geral, LGBTs…acho que não funcionaria muito bem.
Lara, estudante do 3º ano do EM
Apostas e caminhos
As juventudes, especialmente as negras, periféricas e LGBTQIA+, sempre encontraram muitas formas de se expressar e de resistir aos sucessivos desmontes. E seguem resistindo à imposição do Novo Ensino Médio, das escolas militarizadas e de políticas que as afetam diretamente. Seguem lutando por uma educação de qualidade, que abra caminhos e oportunidades para o futuro e que as/os escute – por que uma educação antirracista é uma educação que interrompe e corrige desigualdades históricas, o que também inclui assegurar a gestão democrática e a participação efetiva de estudantes.
Vai ser a gente pela gente pra tentar mudar a realidade. Se a gente não fizer nada, pra eles tá bom. Então os próprios estudantes que têm que se mover de alguma forma pra mudar a realidade.
Rebeca, estudante do 3º ano do EM
O adolescente negro tá na base, tentando ainda entender os assuntos. E desde que me entendo por gente não vejo recompensa por debater, muitas vezes as escolas não querem que você pense e conheça seu próprio país. Isso é muito frustrante, ir colocando na cabeça das pessoas que se você é de classe baixa, pobre, negro, não pode ser ouvido. Acho que as pessoas deveriam ter mais compaixão, isso ir escalando para quem tem cargos públicos, porque ninguém é melhor do que ninguém, isso foi colocado para a gente seguir regras e ter medo de mudar, de ter um pingo de esperança.
Leandro, estudante do 3º ano do EM
Acho que a gente deveria se unir mais. Com tudo isso que está acontecendo é mais um direito pra gente se unir e dizer que nós temos vozes, que nós temos direito de fazer o que a gente quer na escola porque nós somos os alunos, temos o direito de expor nossa opinião e falar o que a gente sente.
Lara, estudante do 3º ano do EM
O que a gente pode fazer enquanto estudante periférico é ir pras ruas mesmo. Por que a gente é movimento social né? Pretos e periféricos são movimento social sim, vão pra rua, vão alcançar. Eu e você aqui fazendo reclamação não vai ter voz nenhuma, mas junta um monte de pessoas e vai pra Paulista pra você ver. Vai ter atenção, e quanto mais atenção melhor. Acho que a gente como estudante tem que sim reivindicar nosso direito e ir atrás porque aquela faculdade pública é nossa por direito. (…) Encontros como o de hoje [dos Projetos SETA e Tô No Rumo] ajudam os jovens a pensar. Todo mundo já pensa nisso, mas ajuda a formular o que tá pensando, sabe? Vai juntando ideias que talvez uma pessoa só não consiga pensar. Todo mundo quer a mesma coisa, uma melhoria, mas só como um todo podemos fazer diferença.
Bianca, estudante do 3º ano do EM