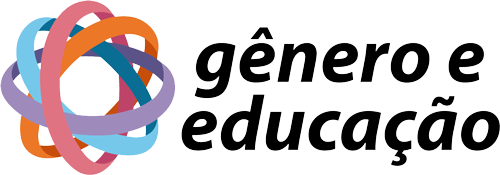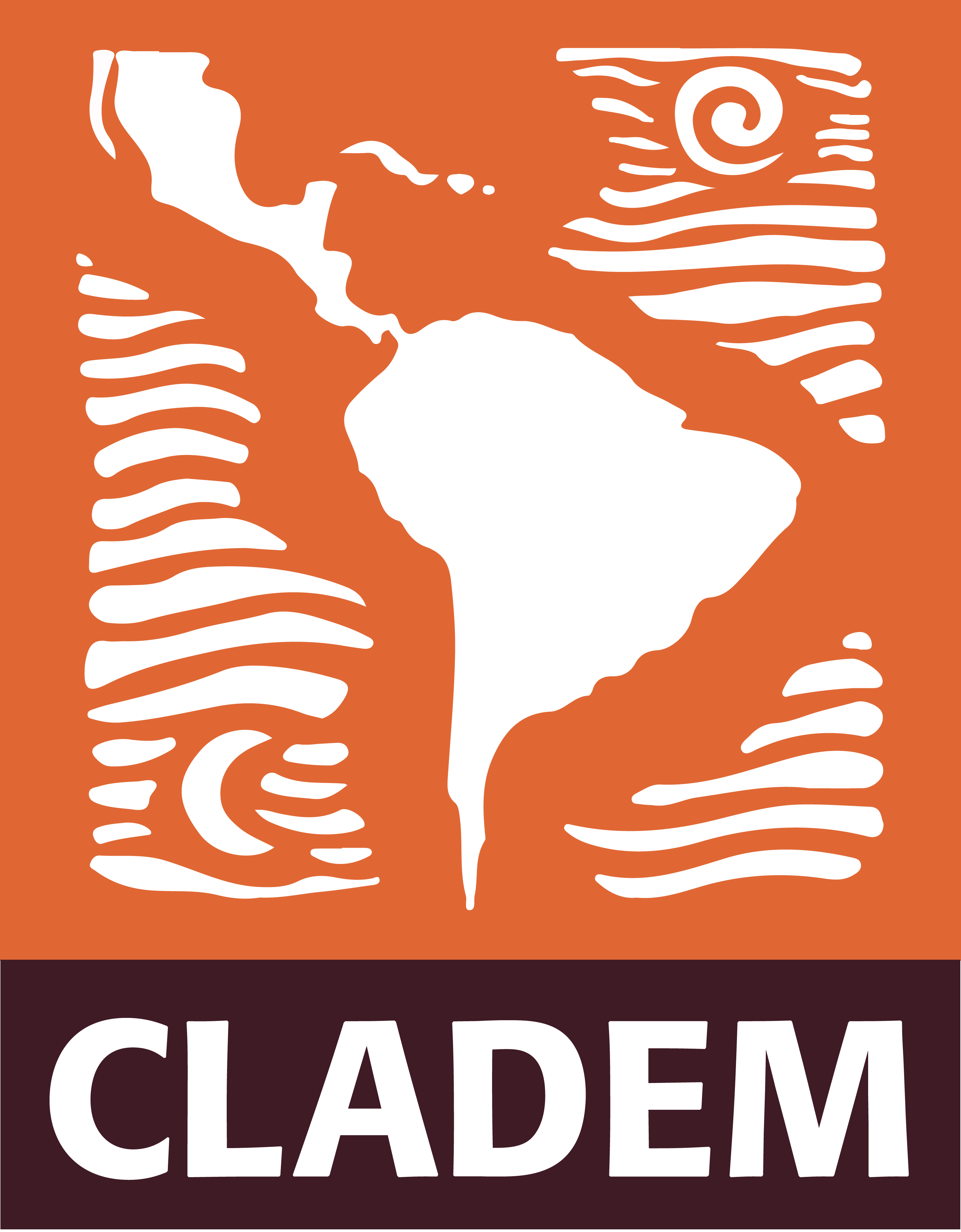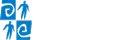Militarização crescente, fechamento de escolas por (in)segurança: como a segurança pública afeta a Educação
Lógica punitivista e de obediência tem se refletido no aumento das escolas militarizadas, enquanto operações policiais desarticuladas nas periferias deixam milhares sem escola
Texto: Nana Soares // Edição: Claudia Bandeira
Tanto educação quanto segurança pública são direitos da população e obrigações do Estado, assegurados pela Constituição Federal. Assim como outros direitos, como saúde e moradia, devem estar articulados e caminhar no mesmo sentido: o de construir uma sociedade cada vez mais democrática, inclusiva e participativa, sem deixar ninguém para trás, segundo os princípios dessa mesma Constituição. Mas essa lógica tem sido cada vez mais ignorada, com políticas de segurança pública interferindo de maneira negativa na garantia do direito à educação.
A concretização dessa interferência é o crescimento exponencial das escolas militarizadas no país, que aumentaram mais de 20 vezes em apenas uma década, expansão que persiste mesmo após o fim do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (PECIM). O exemplo mais recente é o estado de São Paulo, que acaba de aprovar um programa nesse sentido. Mas a segurança pública – ou justamente a falha na garantia dela – também afeta a educação de jovens em todo o país pelo crescente de violência e conflitos territoriais, que fazem com que as escolas fiquem fechadas por vários dias do ano. Essas interrupções cada vez mais frequentes trazem prejuízos para toda a comunidade escolar e somam-se a outros problemas estruturais da Educação.
Militarização segue em expansão, e melhora de avaliação das escolas não corresponde à realidade
Até o governo Bolsonaro, não havia um esforço nacional para a militarização das escolas – quando a gestão passa parcial ou totalmente para a responsabilidade de forças de segurança. Os estados ou mesmo municípios criavam suas próprias iniciativas – Goiás e Bahia são dois dos locais onde esse modelo está presente há mais tempo. Em 2019, com a criação do PECIM, o cenário mudou: em um contexto de avanço do ultraconservadorismo e do pensamento militarizado e punitivista como um todo, passou a haver um estímulo, inclusive financeiro, para a militarização de escolas em todo o país. Um exemplo é o estado do Paraná, que hoje talvez seja onde o modelo de escolas militarizadas se expande mais rápido e abertamente.
“O PECIM deixou um lastro de nacionalização em um processo que até então estava em várias unidades da federação, mas não era nacional. Sua criação em alguma medida endossou as narrativas localizadas”, diz a professora Miriam Fabia Alves, da Universidade Federal de Goiás (UFG), e que estuda militarização.
Alguns dados ilustram esse avanço: o orçamento destinado às escolas cívico-militares mais que triplicou entre 2020 e 2022 (de 18 para 64 milhões de reais). Segundo a Rede Nacional de Pesquisa sobre Militarização da Educação (RePME), eram 39 escolas militarizadas no país em 2013, número que passou para 122 em 2018 (ainda antes do PECIM) e saltou para ao menos 816 escolas em 2023. Vale comentar que esse número pode ser ainda maior, uma vez que os modelos de militarização são múltiplos.
Neste cenário desafiador, o novo governo Lula ainda demorou a revogar o PECIM, fazendo-o somente em julho de 2023, apesar de ter sido orientado a fazer isso desde a fase de transição. A revogação, no entanto, não veio acompanhada da “desmilitarização” das escolas que aderiram ao modelo. Assim, embora não exista mais um programa nacional, a militarização da educação está fortalecida após 4 anos de aportes financeiros e estímulos de todas as ordens. E agora os estados e municípios já têm – e seguem criando – seus próprios programas.
“A tendência é de regionalização”, explica Amarilis Costa, advogada e diretora Executiva da Rede Liberdade, uma articulação que atua juridicamente em casos de violação de direitos e liberdades individuais, onde se inclui a militarização. Ela reforça que o movimento das escolas cívico-militares hoje acompanha a reorganização do bolsonarismo, e há especialmente duas estratégias: o sucateamento da educação pública e o remodelamento e regionalização da militarização. O remodelamento dos projetos de lei é descrito por Amarilis como uma espécie de “fatiamento” do projeto de militarização, ou a construção da viabilidade dessas escolas a partir de outras dinâmicas do direito administrativo. “Por exemplo, em alguns estados, militares ou ex-militares são colocados como secretários de cultura, educação ou gestores escolares”, explica. Já o sucateamento da escola pública “é mais discreto e parece dissociado da militarização, mas está super conectado uma vez que reforça o argumento da escola cívico-militar [ECM] como uma melhoria”, diz. Nessa linha entrariam ações tomadas pelo governo Tarcísio em São Paulo ainda antes do anúncio do programa de militarização, como a restrição da liberdade de cátedra dos professores e o que é ofertado nos conteúdos e atividades a estudantes. Não por acaso, a gestão não demorou a anunciar a adesão às escolas cívico-militares.
Por que militarizar vai contra o direito à Educação
A militarização das escolas vai contra diretrizes constitucionais para a educação, acirra desigualdades e reforça o racismo, o machismo e a LGBTfobia nas escolas. Para a pesquisadora Catarina de Almeida Santos, a padronização de corpos e sujeitos é a contramão do que deveria ser o papel da escola. A lógica de obediência e de modelo único, em contrapartida ao reforço e valorização das diversidades, pode enfraquecer também a gestão democrática e o próprio papel das escolas públicas.
“A militarização se apresenta como ‘neutra’, uma contranarrativa e um combate ao que seria uma escola ‘doutrinadora’. Essa narrativa ganhou muita força no Brasil, um país que flerta com muita frequência com esse super poder dos militares”, diz a professora da UFG, Miriam Fabia Alves. Ela concorda que a supervalorização desse modelo faz parte de um projeto de extrema desvalorização da escola pública, e por isso localiza a disputa também no campo narrativo. “Nós temos dificuldades em todo o país com a atuação das forças de segurança pública, mas ao mesmo tempo supervalorizamos sua atuação dentro da escola. Como as mesmas forças que assassinam podem educar?”, questiona. Vale lembrar que na votação que aprovou o programa de escolas cívico-militares no estado de São Paulo, forças de segurança foram chamadas à sessão justamente para reprimir estudantes que protestavam contra a medida.
Além disso, as escolas militarizadas tendem a iniciar, manter ou aprofundar uma lógica de exclusão em relação a quem são os e as estudantes que podem estudar ali. Em Goiás, por exemplo, algumas escolas, apesar de públicas, têm uma taxa de contribuição voluntária. Além disso, alunos que não “se adequam”, seja pelo desempenho escolar ou por outros motivos, podem ser transferidos. “É uma lógica que dificulta o acesso e a permanência, porque nem todas as exigências – de uniforme, contribuição, questão corporal, etc – podem ser cumpridas por todas as pessoas”, reforça a professora Miriam Alves.
Segundo um relatório apresentado pela sociedade civil brasileira a um comitê da ONU em 2023, o investimento público feito nas escolas militarizadas tem sido significativamente maior que o direcionado às escolas públicas comuns, o que tem como efeito ampliar a segregação étnicorracial e de classe no sistema de ensino. As exigências/exclusões e o maior investimento podem, portanto, justificar porquê as ECMs são frequentemente exaltadas como um “modelo vencedor”, tendo como base o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).
Mas essa ideia não é sustentada pelos dados. A geógrafa Rafaela Miyake mapeou o perfil das primeiras escolas a aderirem ao PECIM e observou que muitas das unidades já tinham infraestrutura e nota do Ideb acima da média antes do PECIM. Isto é, não foi a militarização que elevou sua qualidade. Outros estudos e levantamentos já tinham percebido esse mesmo padrão, e também ressaltam o maior orçamento destinado às ECMs.
“A conclusão do mapeamento, e o choque, foi perceber que o projeto piloto [do PECIM] na verdade foi uma tentativa de convencimento da opinião pública de que a militarização melhora a escola. Mas elas já eram boas antes”, explica Rafaela, que continua o mapeamento em seu mestrado no Departamento de Geografia da USP. Das 54 escolas do projeto piloto: 49 já tinham biblioteca quando aderiram ao PECIM (90%); 45 já tinham laboratório de informática (83%); 41 já tinham salas de atendimento especial (76%); 36 já tinham quadra coberta (67%) e 27 já tinham laboratório de ciências (50%). As informações foram enviadas a Rafaela pelo INEP através da Lei de Acesso à Informação. E 20 das 54 escolas já tinham alcançado a meta projetada no Ideb (dados extraídos do Censo Escolar). Em relação à situação de vulnerabilidade social, Rafaela também observou que boa parte dos alunos já figurava em índices já diferenciados segundo o censo escolar (índices 3 e 4). “Pensando na realidade da escola pública, já era um quadro de exceção”, reforça a pesquisadora.
A adesão ao PECIM, conforme observado pelo mapeamento, tornou as escolas mais excludentes, já que muitas delas tiveram que fechar turmas para poder se adequar ao Programa. As escolas que aderiram ao projeto piloto não poderiam, por exemplo, ter turmas noturnas, de Educação de Jovens e Adultos (EJA), entre outros requisitos. Mas no momento da adesão eram cerca de 300 turmas de EJA, com quase 8 mil matrículas. “O que aconteceu com essas pessoas após a adesão?”, questiona a pesquisadora. “[Com a militarização], a avaliação pode até aumentar, mas a prestação de serviços para a população piora: as vagas diminuem, além das escolas – sem noturno e sem EJA – passarem a ter menor complexidade na gestão e menor evasão”, reitera Rafaela. A pesquisadora segue seu mapeamento, agora focada nos programas estaduais de Goiás e Paraná – neste último, que é fruto do PECIM, já se notam os mesmos padrões de exclusão.
Operações policiais e conflitos territoriais: fechamento de escolas cada vez mais comum
Os dados sobre a militarização mostram que ela não é uma solução para a educação pública. Mas além disso, há outra complexidade na relação entre educação e segurança: no Brasil, as ações, estratégias e políticas de segurança pública têm reforçado exclusões e desigualdades educacionais e negado o direito à educação a estudantes mais pobres, de periferias, negras e negros.
O exemplo mais flagrante dessas violações é a quantidade de dias letivos perdidos por alunas e alunos por conta de conflitos territoriais ou operações policiais. No Rio de Janeiro, em 2023, 257 escolas não abriram ou precisaram fechar por conta da violência urbana – isso apenas nos primeiros 45 dias letivos do ano. Foram mais de 85 mil estudantes sem aulas, ou 13.5% da rede municipal. Outra pesquisa, do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC), analisou dados de 2019 e aferiu que nada menos do que 74% das escolas cariocas tiveram pelo menos um tiroteio em seu entorno naquele ano. E a estimativa de redução de aprendizado chegou a 64% em português e em perda completa em matemática.
O Complexo da Maré sempre figura entre as regiões mais afetadas por esse fenômeno. Lá, onde moram 160 mil pessoas, estudam cerca de 20 mil alunas e alunos em 50 escolas. Segundo dados compilados pela organização Redes da Maré, foram 146 dias sem aula de 2016 a 2023, e em 2024 já eram 10 dias de escolas fechadas apenas nos 4 primeiros meses do ano. Uma média de 25 dias sem aulas a cada ano. Isso significa que nos 11 anos de escolarização obrigatória de uma estudante da Maré, a violência pode ter deixado sua escola fechada por mais de um ano letivo completo.
“Quando penso na relação entre educação e segurança pública, penso em violação de vários direitos: do direito à educação, do direito de ir e vir, do próprio direito à segurança pública”, resume Andreia Martins, pesquisadora da Redes da Maré e ativista do Fundo Malala. “O mesmo estado que propõe ações truculentas de combate ao crime organizado é o que deveria estar fornecendo educação, mas as operações violam esse direito ao fechar escolas”, completa ela.
Os problemas causados pela violência se acumulam, uma vez que têm impactos na saúde física e mental de toda a comunidade escolar, além de apresentar um desafio logístico e até trabalhista para repor as aulas perdidas. “No dia seguinte não é uma aula normal, as aulas não têm como ser as mesmas quando a escola ficou fechada por tiroteio, quando pessoas foram baleadas. Além da violação do dia a dia, as pessoas ficam fragilizadas e adoecem. É muito difícil criar um ambiente propício para o desenvolvimento cognitivo, para a produção de conhecimento entre estudantes e docentes com tantas fragilidades”, pontua Andreia. “A Secretaria de Educação do município, que diz ter um plano de mitigação desses efeitos, propõe, para o dia não ser ‘perdido’, aulas remotas ou envio de atividades remotas. Mas pesquisas que nós mesmos já conduzimos durante a pandemia já mostraram que os estudantes não têm condição de acompanhar essa aula”, reforça a pesquisadora, destacando desafios como o acesso às tecnologias e conexões adequadas para as aulas remotas.
Esse ponto, comum a outras escolas do Brasil, especialmente de periferias, merece destaque. Andreia faz questão de lembrar que, quando o assunto é educação, há outros problemas na Maré que não só a violência, agenda que acaba ganhando destaque enquanto há outras fragilidades no território, como a falta de infraestrutura das escolas, a dificuldade de vagas para todas e todos estudantes do Complexo e a ausência de outros órgãos de assistência à população. “É perigoso porque o discurso do Estado para justificar a precariedade dos serviços oferecidos é muito pautado na violência, sendo que há muitas coisas que independem disso. É preciso superar esse discurso”, resume. “O problema não é só a violência, mas o olhar do Estado na implementação de políticas para esse território, que passa também, mas não só, pela política de segurança pública”.
Articulações para reverter esse cenário: mobilização social e investidas no judiciário
Nesse contexto de crescente militarização, a mobilização social é cada vez mais importante, e tem encontrado, no Judiciário, um caminho para conseguir frear ou reverter alguns desses retrocessos. “Se por um lado a regionalização e desmantelamento dos programas são um desafio e dificultam seu mapeamento, o fato de não virem mais de cima [nível federal] também nos dá melhores argumentos e articulações no sentido jurídico”, avalia Amarilis Costa, diretora executiva da Rede Liberdade, organização que atua fortemente nessa pauta. A Rede tem insistido muito na inconstitucionalidade das escolas cívico-militares, citando especialmente – mas não só – os artigos 37 e 206 da Constituição Federal, que versam sobre a pluralidade de saberes, gestão democrática, valorização de profissionais, entre outros.
Por isso, inclusive, a “facilitação” à militarização por meio do sucateamento da escola pública pode ser mais desafiadora, já que não há menções diretas à militarização. Da mesma maneira, as muitas maneiras de implementar escolas cívico-militares no país também são um desafio a mais para o litígio no âmbito jurídico. “São políticas sempre em curso e em constante alteração”, diz Amarilis, explicando que novas estratégias de implementação de escolas cívico-militares são utilizadas tão logo se consegue construir os argumentos jurídicos para desmobilizá-las.
Daí a importância da sociedade civil articulada e mobilizada na pressão social e na disputa de narrativas. “Com todos os desafios, temos tido avanços consideráveis no repúdio a esse modelo, mas sabemos que o imaginário de violência e retrocesso vai se enraizando e afeta especialmente territórios do sul global. Por isso, a mobilização da sociedade civil é fundamental, já que as respostas institucionais e do judiciário nem sempre alcançam o tempo da resposta política”, diz Amarilis.
No caso de São Paulo, a Articulação Contra o Ultraconservadorismo na Educação, ao lado de mais de 100 organizações que atuam na defesa dos direitos humanos e pelo direito à educação de qualidade, lançou uma Carta de Repúdio ao Programa de Escola Cívico-Militar, promovido pelo governador, Tarcísio de Freitas, alertando que escolas militares acirram desigualdades educacionais, coíbem a expressão da diversidade de gênero e sexualidade e incentivam abusos por parte dos militares. Além disso, elas também reproduzem o racismo estrutural e institucional, impondo padrões estéticos baseados na branquitude e violam a liberdade de crença.
>> Baixe o Manual de Defesa Contra a Censura nas Escolas
>> Informe-se sobre as mobilizações da União Brasileira de Estudantes Secundaristas