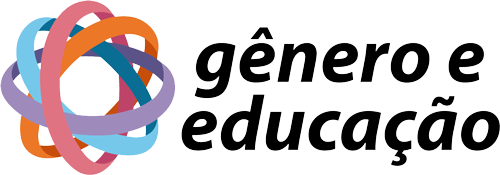Por uma ciência antirracista: bate-bola com Anna Benite
O trabalho da química Anna Benite para transformar a educação e a trajetória de alunos e alunas negros em Goiás.

“A Química me autoriza a falar de tudo porque como ciência da transformação da vida ela não foi feita por uma única sociedade branca”. Esse pensamento que tem ecoado nos espaços acadêmicos e nas escolas básicas goianas é de Anna M. Canavarro Benite. Química e Professora da Universidade Federal de Goiás (UFG), Anna Benite tem transformado a realidade de estudantes e docentes, professores e professoras do ensino fundamental, médio e universitário, questionando a centralidade da produção de saberes brancos e ocidentais, e divulgando o conhecimento produzido pelos negros e negras no Brasil e no mundo. Fundadora do Coletivo Negro (a) CIATA do Laboratório de Pesquisas em Educação Química e Inclusão (LPEQI) da UFG, coordenadora do projeto Investiga Menina e Militante do Grupo de Mulheres Negras Dandara no Cerrado, nossa entrevistada fala sobre sua trajetória, os desafios da profissão e sua luta antirracista.
[Gênero e Educação] Professora, conte um pouco sobre sua origem e sobre como a Química surgiu na sua vida.
Anna Benite – Somos de Taquara em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. É um lugar difícil, sem trabalho, tem que ir para Central do Brasil [centro do Rio de Janeiro] para trabalhar. A minha mãe, uma mulher negra com potencial transformador, transformava a penúria em que vivíamos todos os dias. Não estou falando só de miséria, mas de um lugar que não tem água de rua nem esgoto. Então eu tinha dois caminhos: a escola ou continuar vivendo do subemprego e no lugar de ausência. Eu não tive uma predileção pela Química, fiz o que era possível para uma pessoa negra. Fui parar em um curso de licenciatura noturno. Ali percebi que a Química me autoriza a falar de tudo porque como ciência da transformação da vida ela não foi feita por uma única sociedade branca. Todas as sociedades, das consideradas primitivas às lidas como modernas, se organizaram por processos de transformação da matéria. Na academia, entendi que aquela ciência não me contemplava. Por isso, decidi trabalhar com e por uma ciência que refletisse quem eu era de fato, ou seja, a mãe, professora, militante, mulher negra, sou todas essas pessoas. Mas foi um caminho sem muitos louros, pois ao mesmo tempo em que apareço na mídia não tenho grana de projeto há uns quatro anos, porque para o desgoverno do nosso país esses temas não são importantes.
[Gênero e Educação] Você é referência no campo da educação voltada para a “descolonização” do saber. O que significa este termo e por que essa corrente é importante?
Anna Benite – O termo descolonização, na verdade, não é bom, porque se a colonização tivesse acontecido de fato, eu não estaria falando com você. A gente não teria resgatado a nossa história, mas a gente está contando a nossa história, não só eu, mas as mulheres antes de mim e outras que virão. Esse termo não é bom porque os referenciais teóricos são os homens brancos, mas as pessoas reproduzem porque são treinadas na academia branca e continuam lendo as mesmas coisas.
Precisamos de uma ciência mais diversa, pois essa monocromática está falida. A universidade e a ciência se desconectaram da dimensão concreta da vida das pessoas, elas precisam se comunicar com quem somos, um país de maioria autodeclarada negra, de pretos e pardos.
Quando alguém diz para mim “ah, você nem parece cientista com esse turbante na cabeça”, isso não é só um comportamento tosco, perverso, isso é um projeto de poder que é estrutural, cruel e que produz tantas ausências que as pessoas têm dificuldade de se identificar, de saber que seus ancestrais produziram tecnologia
Para entrar nesse debate sobre “descolonização” e ocupar o meu lugar na ciência, precisei dominar as ferramentas desse sujeito do poder. É um artifício, falamos no consenso e depois o deslocamos, portanto, para mim, o termo correto é “deslocamento epistêmico”.
Anna Benite
[Gênero e Educação] Como promover esse “deslocamento epistêmico” na educação básica?
Anna Benite – Quando você é um menino ou menina negra, você entra na escola experimentando confrontos culturais e simbologias que não te pertencem. Você é apresentado para este lugar a partir de um único referencial que é de um homem branco. Ninguém te apresenta um livro de uma mulher negra, uma descoberta de uma cientista negra.
Houve mudanças, mas insuficientes para nosso contingente de população negra. Somos o segundo maior país em população negra no mundo, atrás só da Nigéria, na África. Chega a ser dolorido falar disso. Eu tenho uma filha de 10 anos que liga a TV todos os dias e diz: “mãe, olha como a Maju tá linda hoje”. Isso é um exemplo fácil para entendermos o que acontece na escola.
Perdemos essas crianças porque não damos a elas uma chance de descobrirem que têm um passado de glória
Anna Benite
Contamos histórias a partir de um lugar que não é nosso. A gente não diz “olha, tem um outro caminho, tem uma pessoa que fez uma coisa bacana e que se parece com você”. Tem um monte de gente fazendo coisa legal e é gente preta. Precisamos conhecer essas pessoas porque elas existem, sempre existiram.
[Gênero e Educação] Qual sua avaliação sobre a revisão curricular para uma educação antirracista?
Anna Benite – No Brasil, a população negra não pode fazer o que quer e o discurso da meritocracia de que basta você se esforçar é uma mentira. A necessária revisão curricular não vai acontecer por um instrumento efetivo somente, pois isso demora. Por isso trabalhamos com formação de professores e todos os alunos ligados ao grupo que eu coordeno trabalham com o conceito de “deslocamento epistêmico” em atividades com crianças desde a tenra idade até a pós-graduação. Quanto mais cedo começamos, mais cedo plantamos para termos cientistas negros e negras no futuro.
Eu e minha corrente de pesquisadores não esperamos leis. A gente vai na escola, com currículo engessado mesmo, com 45 minutos de tempo de aula etc. e deslocamos o conhecimento. Ao invés de contar a história pela matemática, a gente dá aula a partir dos adinkras. Gente, Aristóteles ficou nos elementos terra, fogo, ar e água durante 2 mil anos, mas os africanos falavam disso antes, basta estudar os processos de mumificação e escarificação. A gente mostra que há outras ciências e indicamos onde elas estão.
[Gênero e Educação] Qual são os objetivos do Coletivo Negro (a) CIATA que você fundou?
Anna Benite – É um grupo de estudos que reúne estudantes negros e negras para discutir coisas da natureza que não estão no conhecimento da Química, pois a Química estuda moléculas e a gente queria estudar gente. Questionamos nosso papel como cientistas porque a ciência autorizou o racismo e a escravidão, dizendo que negros podiam ser explorados porque não teriam alma, não seriam humanos. Nos questionamos: “Somos químicos, tudo isso foi legitimado na história a partir de processo químico, o que fazemos para mudar isso?”. Então fomos estudar sociologia, psicologia, filosofia para saber quem éramos nessa história e hoje somos um grupo de cientistas pela luta antirracista. Fomos atrás de referências fora do mundo ocidental, pesquisamos quem fazia e faz química na África, por exemplo, buscamos outras fontes para contar para todo mundo que essa gente existe.
[Gênero e Educação] Como funciona o projeto Investiga Menina?
Anna Benite – Eu era uma mulher negra, integrante de um grupo de negras, mas não estávamos contando para os estudantes negros o que fazíamos, então não existíamos. Por isso fomos para a escola nas periferias. Trabalhamos desde o 9º ano do fundamental até o fim do ensino médio. Fazemos o acompanhamento pedagógico, ensinamos química, física, biologia, matemática no horário regular, porque aluno pobre e negro não vai voltar à tarde na escola. Ele vai tomar conta dos irmãos, trabalhar, não dá para fazer fora do horário, tem que ser no horário de aula, com a participação dos professores. Ensinamos a ciência a partir do um olhar do povo da diáspora. Uma vez por mês levamos cientistas negras na escola.
Inicialmente, as estudantes queriam saber quem eram aquelas cientistas, as origens delas, as dificuldades que enfrentaram. Com o tempo, entenderam que aquelas mulheres tinham uma história próxima de superação e ausência. Assim, o foco do nosso desafio mudou e passamos a explicar o que aquelas cientistas faziam, atribuindo significado daquela ciência na vida dos e das estudantes.