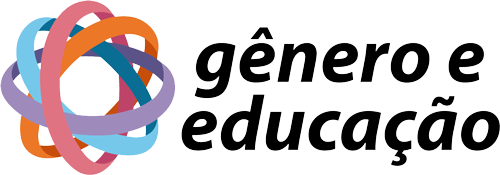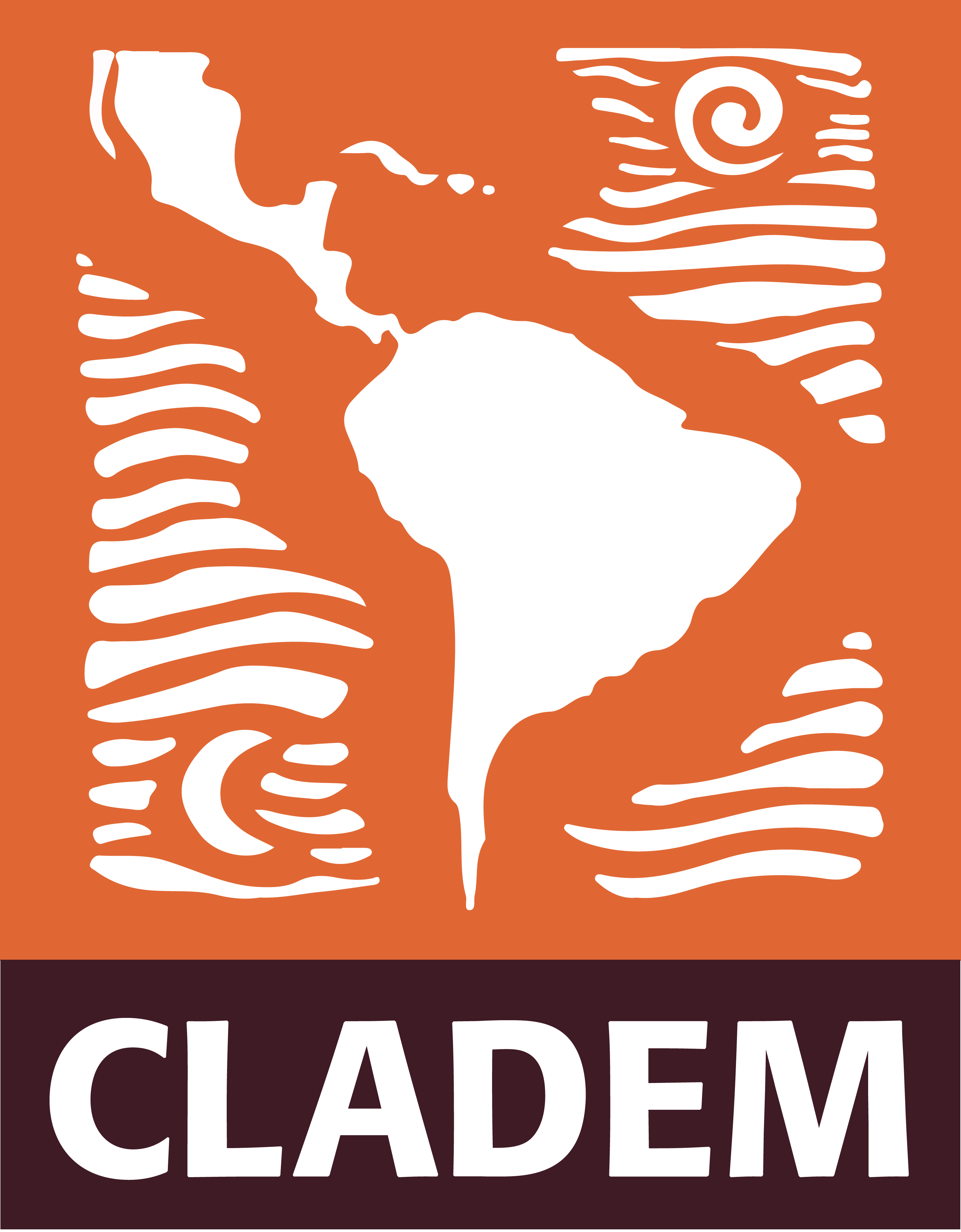Trabalhar em redes e teias: Coletivo ERER+
Estado: São Paulo (SP)
Etapa de Ensino: Ensino Fundamental II
Modalidade: Educação Regular
Formato: Presencial
T. Angel é uma pessoa freak, trans não-binárie, mestranda em Educação na FEUSP, historiadora, especialista em Educação Inclusiva e MBA em Gestão Escolar. Artista da performance, ativista pelos direitos humanos e dos animais, trabalha com educação pública na periferia de Osasco. Há duas décadas pesquisa modificação e suspensão corporal, assim como os diferentes usos do corpo. Seus estudos estão disponíveis na plataforma eletrônica FRRRKguys.
A experiência
Fui convidada para ser responsável pela interlocução da Educação para as Relações Étnico-Raciais – ERER entre a escola em que trabalho e a Diretoria de Ensino de Osasco. Dentro do plano de ação, havia a criação de um coletivo. Para iniciar os trabalhos, considerando que o processo envolveria diferenças e dissidências, entendi que o primeiro passo era romper os silêncios e os silenciamentos impostos aos grupos de pessoas que foram marginalizadas na história. Era necessário explodir o silêncio, que nada tem de neutro e que sustenta ideologias hegemônicas.
Pessoas envolvidas
Desde o princípio, entendia que o trabalho precisaria envolver toda comunidade escolar, consciente dos desafios, que vão desde a resistência e desprezo pelas pautas dos Direitos Humanos e que alcançam o sucateamento da educação pública enquanto projetos políticos.
O trabalho se iniciou comigo, estudantes e ex-estudantes. Nos passos seguintes, contamos com os atravessamentos de poucas e poucos docentes e familiares. Até que, em 2021, conseguimos fortalecer o envolvimento de outras e outros docentes.
Relato de experiência
Em 2018, fui convidada para ser responsável pela interlocução da Educação para as Relações Étnico-Raciais – ERER entre uma escola estadual e a Diretoria de Ensino de Osasco. Dentro do plano de ação que elaborei, havia a criação de um coletivo.
Para iniciar os trabalhos, considerando que o processo envolveria diferenças e dissidências, entendi que o primeiro passo era romper os silêncios e os silenciamentos impostos aos grupos de pessoas que foram marginalizadas na história. Era necessário explodir o silêncio, que nada tem de neutro e que sustenta ideologias hegemônicas. Foi assim que surgiu o Coletivo ERER+, coordenado por uma professora monstrans, cria da escola pública e da periferia da grande São Paulo e que tem movimentado, desde então, estudantes, ex-estudantes e docentes.
Março de 2018
Em diálogo com a direção da escola, apresentei para todo o corpo docente o plano de ação que seria desenvolvido durante o ano letivo. O passo seguinte foi passar em todas as salas de aula, nos três períodos, apresentar a legislação 10.639/03 e convidar para uma reunião introdutória do que seria o coletivo. Já não estava sozinha. Já havia adiantado a conversa com estudantes, que se prontificaram a ajudar na comunicação.
Sabendo, por experiência, da sensibilidade e os desafios de abordar direitos humanos na educação – e para além dela –, especialmente em pautas como o enfrentamento ao racismo, misoginia, classismo, intolerância religiosa, sexismo, LGBTfobia, capacitismo e gordofobia, imaginei que teria um grupo pequeno, algo entre 5 a 10 estudantes.
Quando tratamos dessas pautas, é comum as tentativas de invalidar as lutas com discursos raivosos, expressões e rótulos como “vitimismo”, “frescura” e “lacração”. Em outros casos, o reacionarismo escala para acusações de “doutrinação”, alimentando delírios perversos e falsos sobre a chamada “ideologia de gênero”.
Para minha surpresa, houve um interesse grande. As primeiras reuniões mobilizaram mais de 200 estudantes e, no primeiro ano, tivemos uma média de 130 pessoas no grupo de WhatsApp.
Em nossas reuniões e atividades, nos dedicamos a refletir sobre as violências que atravessam as pessoas dissidentes e assumimos, coletivamente, o compromisso de aprender e, mais do que isso, de nos co-responsabilizar pela sociedade da qual fazemos parte — e pela escola em que estávamos.
As reuniões e as “explosões de silêncios” nos apontavam onde precisaríamos concentrar mais a nossa atenção. Foi preciso uma escuta ativa e um olhar sensível para perceber o que estava nas entrelinhas, no não dito. Violência contra a mulher, racismo, LGBTfobia e saúde mental foram temas presentes, fortes e frequentes e mobilizadores no primeiro ano.
O coletivo coordenado por uma professora “esquisita-monstra” é um monstro também. Um monstro com muitos olhos, cabeças, corações e braços. Um de seus braços sustenta a elaboração de um grupo de artes. Então, todas as temáticas que nos atravessavam eram também processadas pelas artes e se tornavam ações performáticas.
Saber que as estudantes sofriam assédio e importunação sexual durante o caminho de casa para escola nos levou para a intervenção urbana “Vestígios” (2018). O racismo, o sexismo, a LGBTfobia e a luta de classes, nos levou para experimentação do site specific “Entre Frestas” (2018) que nunca foi finalizado, mas que o processo de imersão em sua construção, nos transformou. O processo intenso e constante de ataques contra a população LGBTQIAP+, crescente desde o resultado das eleições de 2018, acompanhando da perseguição e da censura (a exemplo da Bienal do Livro do Rio de Janeiro e do material didático do governo do Estado de São Paulo) nos levou para o “Conteúdo Impróprio” (2019). A arte foi a forma que conseguimos devolver – enquanto resposta – às violências que recebíamos. Rompendo silêncios. Devolvendo.
Escolhas metodológicas:
A partir de uma escuta sensível e ativa, identificamos os temas que atravessavam a vida dos estudantes. Rodas de conversa, palestras e a imersão em materiais diversos — vídeos, músicas, pinturas e textos — alimentavam reflexões, estudos, movimentos e lutas por emancipação. O objetivo era claro: romper com a verticalização na construção do saber, com a educação colonizadora, valorizar os diferentes saberes, expandir a vida e enxergar novos horizontes.
A presença de convidados e especialistas em áreas como psicologia, artes e sociologia enriquecia ainda mais esse processo, trazendo novas perspectivas e aprofundando os diálogos.
Escolhas metodológicas (de sobrevivência):
Reconhecendo com muita lucidez a fragilidade e a vulnerabilidade do trabalho, com a consciência do território em que o trabalho se realizava — que é o mesmo onde cresci —, fiz uma escolha metodológica de sobrevivência: trabalhar sempre em contraturno. Eu, que sempre soube entrar e dançar pelas brechas e fissuras, não poderia deixar nenhuma aberta para que o trabalho fosse interrompido. Raras foram às vezes que executei o trabalho em meu horário de aula, assim como evitava retirar estudantes de suas aulas regulares. Inventamos um outro tempo, o que nunca foi um problema para mim e para os estudantes. Dobramos o tempo.
Foco do debate: Arte e História
As discussões teóricas sobre a nossa história construíam um importante terreno. Falo de nossa história não enquanto povo, mas enquanto uma multidão. História marcada pela colonização e pela repetida e insistente desumanização das dissidências. Porque a colonização ainda não teve fim.
A arte entrava enquanto ferramenta possível de desdobramento e reverberação das discussões e embasamento histórico. Era um constante exercício de não se contentar e atender o próprio chamado do corpo de buscar mais, querer mais, borrar limites e fronteiras. Experimentar. Utilizar os corpos e corpas com todas as suas potências pedagógicas e transgressoras. Encontrar sentido explorando os próprios sentidos em experiências catárticas.
Estratégias adotadas
Trabalhamos partindo da precarização da escola pública periférica. Escolhi pela quebra dos silêncios e dos silenciamentos, o que implicava em comunicar insistente e repetidamente sobre o nosso trabalho e comunicar, dentro dos muros da escola e, no ambiente virtual, todas as ações que fazíamos, entendendo e reconhecendo a importância de lutar contra a censura, a autocensura e o medo.
Escolhi trabalhar com outro tempo. Fazia o meu trabalho regularmente em sala de aula e inventava um outro tempo para atender essa demanda, o que implicava em estar na escola e com o coletivo, inclusive, aos sábados. Essa escolha foi estratégica, não queria deixar brecha para que questionassem ou vetassem o trabalho utilizando a desculpa de que eu não estava “trabalhando de verdade” ou que eu não estava dando aula. Foi uma decisão pessoal, profissional e, sobretudo, política.
Por fim, e não menos importante, tive a abertura e apoio da direção da escola que acolheu todas as ações que propus e colaborou na defesa da nossa presença ali. É preciso considerar o contexto de 2018 (e dos anos seguintes) e a coragem necessária para sustentar um trabalho como esse dentro de uma escola pública.
Gerar, manter e sustentar um trabalho como esse, em um período em que os governos estadual e federal daquela época que demonstravam explicitamente o desprezo pela educação, artes e a diversidade foi um exercício constante de não adoecer e não deixar se contaminar. Resistir. Aprender que, mais do que nunca, aquele trabalho de resistência era fundamental.
Minha expectativa era pequena, muito articulada dentro de uma perspectiva de micropolítica, pirataria e hackeamento. Então sempre me surpreendi, positivamente falando, do que ao contrário. Penso, então, que os desafios acabaram sendo menores e que, nem por isso, não necessitem atenção e tratamento estratégico. Dentre eles, o mais marcante:
Famílias não deixarem estudantes estarem no coletivo, algumas vezes acontecia de modo “sutil” (a pessoa só não frequentava mais) e, outras vezes, dramáticas (saber a importância do coletivo para pessoa e a família proibir expressamente a participação justificando que fosse um coletivo LGBTQIAP+).
Principais aprendizagens
Para mim:
A importância de uma educação engajada, emancipadora e crítica. Buscar sentido na educação pública. Mais do que sentido, (re)encontrar forças. Considerando o quanto o sistema educacional institucional sufoca as dissidências forçando uma homogeneização e exclusão, subverter: gerar respiros. Respingar.
Para estudantes:
Talvez por ser uma professora esquisita-monstra, talvez pelo coletivo também ser um montro, sempre houve uma aproximação e permanência de estudantes que tinham uma forte relação com as dissidências. Abrigo. Estudantes que estavam buscando um local seguro para existir em plenitude. Sem temer. Sem medo. Sem vergonha.
Por questões pessoais ou por uma consciência crítica e política latente, estudantes pretos e pretas, mulheres, pessoas LGBTQIAP+ sempre estiveram ali se expandindo e pulsando vida. Em um processo de (re)conhecimento de si e do outro. Assim, a intersecção entre classe, gênero, sexualidade e raça era indissociável do trabalho. Como forma de engrandecer e potencializar todas as nossas reflexões, saberes e movimentos. Era preciso cruzar Elis Regina com Liniker. Quebrada Queer com Racionais. Achille Mbembe com Paul Preciado. Jota Mombaça com Pina Bausch. Paulo Freire com Ailton Krenak. Hibridizar.
Nas palavras de estudantes que passaram pelo Coletivo:
“Dentro do coletivo, eu evolui como pessoa e aprendi tantas coisas que se torna impossível listar todas elas, mas o que realmente importa é que nós – eu e os olds – não aceitamos ficar longe, mesmo que fora da escola, estamos aqui para dar continuidade a algo que nos encantou e encanta desde o comecinho. (…) O coletivo tocou o nosso coração.”
“Entrei para o coletivo assim que fui para o Américo, quase no meio de 2018, foi uma das melhores escolhas da minha vida. Conheci pessoas incríveis, aprendi muito, descobri interesses e evolui a cada encontro.”
“Tenho ele não somente como um projeto que aborda temas sobre a diversidade humana e os fatores ambientais, mas sim como um projeto pessoal de crescimento enquanto cidadã. Exercer o ato de questionar a sociedade a qual estamos inseridos, criticar o senso comum, sair da sua zona de conforto.”
“O coletivo não só moldou a minha perspectiva sobre eu mesma, mas sobre quase tudo… Foi essencial para formar quem eu sou hoje. ”
Referências bibliográficas
ANDRADE, Luma Nogueira de. Travestis na escola: assujeitamento ou resistência à ordem normativa. 2012. 279f. – Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-graduação em Educação Brasileira, Fortaleza (CE), 2012.
ANGEL, T. Corpos dissidentes e Educação: bailemos ao som da destruição da normatividade compulsória. In: BARBOSA, Angie; CASSIANO, Roberta. (Org(s). Em defesa de uma educação LGBTQIA+. Divinópolis: Meus Ritmos Editora, 2023.
BAPTISTA, Luiz Antonio dos Santos. 1999. A Atriz, o Padre e a Psicanalista – os Amoladores de Facas. A Cidade dos Sábios São Paulo: Summus. pág. 45 a 49.
DELIGNY, Fernand. Os Vagabundos Eficazes: operários, artistas, revolucionários: educadores. São Paulo: N-1 Edições, 2018.
LOURO, Guacira Lopes. Um Corpo Estranho – Ensaios sobre sexualidade e teoria queer – 3ª edição. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2020.
______________________. Teoria queer: uma política pós-identitária para a educação. Rev. Estud. Fem., Florianópolis , v. 9, n. 2, p. 541-553, 2001.
______________________. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. 6. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.
______________________. O corpo educado: pedagogias da sexualidade. 2.ed. Tradução dos artigos: Tomaz Tadeu da Silva. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.
LOURO, Guacira Lopes.; NECKEL, Jane Felipe.; GOELLNER, Silvana Vilodre (Orgs.). Corpo, gênero e sexualidade: um debate contemporâneo na educação. Petrópolis: Vozes, 2003.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa – 26ª Ed. São Paulo: Paz e Terra, 2003.
GOMES, Nilma Lino. O movimento negro educador: saberes construídos nas lutas por emancipação. Rio de Janeiro: Vozes, 2017.
HOOKS, bell. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. São Paulo: Martins Fontes, 2017.
MBEMBE, Achille. Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. 2ed. N-1 Edições, São Paulo, SP, Brasil, 2018.
PAUL, Preciado. Multidões queer: notas para uma política dos anormais. In Rev. Estud. Fem. vol.19 no.1 Florianópolis Jan./Apr. 2011.
____________________
Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Constituição Brasileira de 1988.
Lei Estadual 10.948/01.
Lei Federal 10.639/03.
Lei Federal 11.340/06
Lei Federal 11.645/08.
Decreto Estadual nº 55.588/10.
Deliberação CEE 125/14.
Resolução SE nº 45 de 18 de agosto de 2014.
Resolução CNCD/LGBT nº 12 de 16/01/15.
Aprovação, em 13 de Junho de 2019, pelo STF da criminalização da LGBTfobia no Brasil, equiparando ao crime de racismo (Lei 7.716/1989).