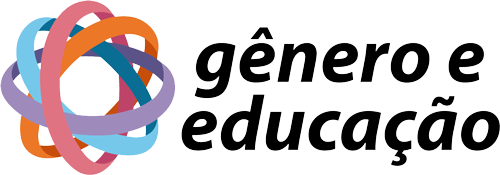Escolas abertas ao debate sobre gênero e raça protegem mais as crianças
A vulnerabilidade das crianças e adolescentes a violências e violações de seus direitos está diretamente ligada à disponibilidade da escola em tratar de gênero e raça de forma transparente.

As questões relacionadas ao gênero e à raça estão presentes em nossas vidas desde que nascemos, constituem o que somos, assim como nossas relações sociais. Conhecer esses conceitos é fundamental para a compreensão, a prevenção e o combate às desigualdades, violências e violações de gênero e de raça, cujas principais vítimas são as populações feminina, negra e LGBTIQA+. Infelizmente, o Brasil lidera os rankings internacionais de violências contra esses grupos e para reverter este quadro lamentável é preciso educação.
As tentativas de dificultar ou censurar uma educação sobre tais temáticas prejudicam o combate às desigualdades e violências de gênero e raça no país e, no contexto escolar, se configuram como uma violação dos direitos das crianças e adolescentes, como apontam especialistas em matéria recente do Gênero e Educação. Além disso, tais censuras seriam inúteis porque, cotidianamente, meninos e meninas pensam, falam e vivem experiências positivas ou negativas decorrentes destes universos. É o que afirmam as entrevistadas Bárbara Barboza e Mayara Pan.
Meninos e meninas têm necessidade de falar sobre gênero
Professora de Sociologia em uma escola pública de ensino médio na cidade de São Paulo, Mayara Pan conta que decidiu criar um projeto para debater gênero na instituição em que leciona quando, no contexto de uma aula, uma aluna revelou ter sofrido abuso sexual. Na ocasião, a jovem afirmou que contava com o apoio de sua família e vinha sendo acompanhada por profissionais de saúde, mas o impacto da revelação inesperada, fez a professora organizar – com a ajuda de outro professor – uma palestra sobre violência contra as mulheres com uma especialista em direito.
A palestra foi bem recebida pelos estudantes e desencadeou outras ações relacionadas com o apoio da gestão, como conta Mayara: “Os alunos e alunas estavam com tanta necessidade de falar sobre o tema que se abriram muito, conversaram sobre violência doméstica, sobre suas próprias vivências. Foi importante para termos uma dimensão do que isso significava para eles. Entendemos que a gente precisava pensar de fato as questões de gênero, e aí organizamos rodas de conversa sobre masculinidade com os meninos e sobre feminilidade com as meninas, de todos os anos do ensino médio”.
A professora relata que, inicialmente, ela e seus colegas tinham receio de que os meninos não participassem das atividades, mas foram surpreendidos positivamente e os encontros se mantiveram regulares e com boa adesão nos últimos dois anos, especialmente as rodas das meninas que, segundo Mayara, demonstravam maior interesse, conexão e conhecimento prévio sobre as temáticas: “muitas contam que aprenderam muitas coisas por meio do YouTube, das redes sociais, dos influenciadores digitais”.
Apesar da interrupção das atividades com a pandemia, as meninas organizaram autonomamente encontros virtuais para continuar debatendo as questões de gênero. “Algumas meninas já têm clareza da distinção entre gênero, sexo, sexualidade, orientação sexual, questões que não são simples. Outras desconhecem ou não dominam esses conceitos. De qualquer forma, é evidente que elas são muito engajadas e o fato de terem organizado essas atividades sozinhas, com meninas de outras escolas que elas sequer conheciam, no meio da pandemia, é resultado do nosso trabalho”, afirma Mayara.
Cada experiência é única e impõe distintos desafios às escolas
A experiência relatada pela professora de Sociologia ratifica a importância do debate sobre gênero nas escolas que, neste caso, foi motivado por uma situação de violência grave vivida por uma aluna. Mas e se esta aluna tivesse dito para a professora que ninguém mais sabia do abuso? E se tivesse dito que não tinha nenhum suporte emocional, familiar ou de saúde física e mental? A professora deveria tomar as mesmas atitudes? Ou deveria agir de outra forma? Essas e outras dúvidas afligem qualquer educadora que se depara com situações semelhantes a essa, pois as questões e problemas relacionados ao gênero ou à raça são complexos e exigem conhecimento e experiência profissional.
Para a Educadora Popular e Cientista Política, Bárbara Barboza, os caminhos mais eficientes para lidar com situações semelhantes são: ouvir cuidadosamente esses meninos e meninas, para entender o foco do problema e sem expô-los; e, em seguida, deve-se acionar a rede de proteção, mas, para tanto, é preciso um trabalho prévio de planejamento, organização e criação de metodologias próprias a serem adotadas pelas escolas públicas.
“É um processo, não tem receita pronta, mas temos alguns pontos de luz para fortalecer as ações das escolas, nas escolas ou com as escolas. Sabe-se que, quando o assunto é gênero e raça, quanto mais aberta a escola for menos vulnerável ela e os alunos ficam. Quando a escola está fechada as vulnerabilidades, violências e violações estão ali como em uma panela de pressão e acabam implodindo. Isso é um grande problema. A escola não tem como resolver isso sozinha, ela pode ser o lugar que, como dizem as pessoas, ‘recebeu o B.O.’, mas se ela fizer parte de uma rede de proteção, as coisas se encaminham”, afirma a Bárbara.
A Educadora reforça que a criação e o fomento de uma rede de proteção para crianças e adolescentes a partir da escola seria um trabalho preventivo que exige comprometimento individual e coletivo, que deve ser contínuo e atualizado constantemente nas oportunidades de planejamento interno e nos encontros com familiares.
Bárbara Barboza afirma ainda que toda experiência escolar bem sucedida em uma rede de proteção pode servir de exemplo para outras instituições, mas nunca replicada integralmente, uma vez que cada território contém atores sociais e realidades distintas. Portanto, cada escola deve mapear seus territórios, identificar seus aliados, dentro e fora das instituições públicas, estabelecer formas de comunicação, diálogo, de documentação etc. Com o passar do tempo e as práticas, seus protocolos próprios para acolher as crianças e adolescentes vão se consolidando e se tornando mais seguros e assertivos. Tudo isso só funciona com uma gestão escolar democrática.
“Tudo é metodologia. Precisa mapear qual é o Conselho Tutelar mais aliado, por exemplo. Na ausência de um, procure aliados na Defensoria Pública. Não tem naquele território? Então vá para a ONG, e por aí vai. É preciso identificar qual política pública chega no território da escola e das famílias. As reuniões de planejamento, de conselho escolar ou com as famílias não precisam ser chatas e só informativas. Nelas você pode perguntar para a família: ‘qual é o serviço público que você acessa?’. A UBS? O CRAS? O ponto de cultura? Precisa ter escuta para identificar os personagens do território que vão ajudar a enfrentar as questões de gênero e raça dentro da escola. Nunca a escola sozinha”, defende Bárbara.
Uma escola que se abre para pensar, se envolver ou criar uma rede de proteção também precisa do apoio de instâncias governamentais como diretorias e secretarias de educação. A cidade de São Paulo é referência nesse quesito graças à criação, em 2014, do Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem (Naapa), uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação cujos objetivos são: articular e fortalecer redes de proteção locais; apoiar e acompanhar docentes e gestoras.
Outro ponto essencial neste processo seria uma formação continuada e o envolvimento dos professores, professoras, gestores e demais funcionários da escola nos conselhos ou espaços internos criados especificamente para a rede de proteção. “Se um menino tem uma relação afetiva e se identifica mais com a merendeira e conta para ela que foi abusado, e a escola for fechada e sem uma gestão democrática? O que vai acontecer? Provavelmente, o caso vai ficar personalizado, vai ficar um peso sobre a merendeira, e a chance desse menino ser violentado novamente é altíssima porque a escola falhou no acolhimento e no encaminhamento. Agora, se a escola for aberta, essa merendeira será considerada uma educadora também, fazendo parte dos espaços de diálogo, e não terá medo de compartilhar com a instituição o problema. Assim, essa denúncia será institucionalizada, no melhor dos sentidos, e levada para a rede de proteção da qual essa escola participa”, aponta Bárbara.
A negação do racismo ainda é um obstáculo
Além das questões de gênero, a rede de proteção deve, concomitantemente, mirar nas pautas e práticas antirracistas, dado que as violências cotidianas sofridas por meninas e meninos negros ainda são negligenciada em todos os espaços compartilhados na sociedade brasileira, inclusive nas escolas que, segundo a Educadora Popular Bárbara Barboza, “ainda não assumiram o racismo”.
De acordo com Bárbara, “as questões de gênero estão dadas e são assumidas pela sociedade, mesmo que alguns não queiram debatê-las na escola. Porém, o racismo ainda não foi aceito pela sociedade. A gente ainda está discutindo democracia racial. Veja, por exemplo, as desigualdades que existem nos cargos da escola. Os cargos mais precarizados são ocupados por pessoas negras e pobres, enquanto os diretores, gestores e professores são mais antigos, brancos e de classe média. Essa desigualdade social está atrelada ao racismo estrutural. Se a escola e a sociedade não assumem o racismo como enfrentá-lo?”.
Àqueles interessados em criar uma rede de proteção a partir de suas escolas, recomendamos a leitura do Guia a escola na rede de proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Produzido pela Ação Educativa, em 2018, o guia traz referências sobre como realizar diagnósticos, mobilizar a comunidade escolar e criar procedimentos operacionais e de comunicação capazes de contribuir com o acolhimento de alunos e alunas, assim como para o encaminhamento a instituições competentes em casos de violência ou violações de direitos.